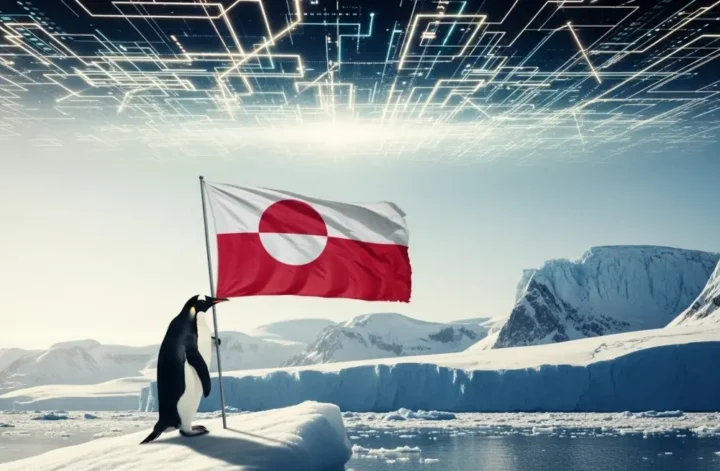No imaginário pop, a AIDS nunca foi apenas uma doença — foi uma estética, um grito, um silêncio imposto e depois quebrado. Está na voz rouca de Freddie Mercury em The Show Must Go On, nos cartazes fluorescentes do ACT UP colados como guerrilha urbana, no episódio de Pose em que o luto vira desfile, na fúria de Angels in America, na fita vermelha que se transformou no símbolo mais simples e mais teimoso que a cultura já produziu.
A epidemia moldou filmes, videoclipes, capas de revista, desfiles de moda, narrativas inteiras. Foi cultura antes de ser lembrança; gesto antes de ser arquivo.
E é por isso que o silêncio também é pop — porque todo silêncio carrega um enquadramento, um ângulo, um recorte do que merece ser visto.
No 1º de dezembro, Dia Mundial de Luta Contra a AIDS, o mundo inteiro produz pequenas performances de memória: uma postagem no Instagram, uma playlist no Spotify, uma cena debatida no TikTok, uma fita vermelha presa na camisa de alguém que talvez nem saiba sua origem.
E é nesse palco — onde política se mistura com imagem, onde omissões se comportam como símbolos — que a figura de Donald Trump reaparece. Mas não como personagem, mas como ausência coreografada, como fantasma que ocupa o espaço de quem escolheu não aparecer.
Não dizer é um ato de fala. Não ver, um modo de olhar. E não lembrar, uma forma de governar
No calendário global, o 1º de dezembro é um dia de corpos ausentes — não apenas os que se foram, mas os que nunca foram contados, os que nunca foram nomeados. É um ritual de memória que se sustenta menos por celebração do que por insistência: contra o tempo, contra o apagamento, contra a indiferença institucionalizada.
Donald Trump nunca mencionou publicamente o Dia Mundial de Luta Contra a AIDS durante sua presidência.
Não houve proclamação. Nem houve tuíte. Não houve foto ao lado de sobreviventes, não houve fita vermelha no lapel.
Essa ausência — meticulosa, reiterada, quase ritual — não é acidental. É estratégica.
Ela pertence a uma longa linhagem de silêncios políticos que começaram com Reagan e continuaram em cadência distinta, mas coerente, até o presente. Trump não inventou o apagamento da AIDS; ele o refinou. Transformou-o em estilo: barulhento por fora, oco por dentro. Um esquecimento que não se esconde — que se exibe, que se vangloria de não precisar falar porque já decidiu quem merece ser lembrado.
Este ensaio não acusa. Interroga.
Pergunta: o que um silêncio pode dizer quando se torna tão alto quanto um discurso?
A epidemia como campo de batalha simbólico
A AIDS irrompeu nos Estados Unidos no início dos anos 1980 como uma crise médica — e rapidamente se tornou uma crise de linguagem.
Ronald Reagan pronunciou a palavra “AIDS” pela primeira vez em setembro de 1985 — quatro anos após os primeiros casos serem registrados pelo CDC, e após mais de 12 mil mortes.
Enquanto isso, corpos se amontoavam em necrotérios, hospitais improvisavam protocolos, e ativistas pregavam cartazes com dizeres como “SILENCE = DEATH”. A famosa fita vermelha, criada em 1991 pelo Visual AIDS Artists Caucus, nasceu justamente como resposta à retórica do desaparecimento: um signo mínimo, portátil, incômodo — feito para ser usado onde o poder preferia o vazio.
Trump herdou essa tradição, mas operou com outra gramática.
Durante seu mandato (2017–2021):
- O Conselho Presidencial sobre HIV/AIDS foi dissolvido em dezembro de 2017 — sem aviso, sem substituição, sem nota oficial. Informação confirmada pelo The Washington Post e pela própria Casa Branca.
- O financiamento ao PEPFAR (Programa de Emergência do Presidente para o Alívio do HIV/AIDS), embora mantido nominalmente, sofreu cortes reais em áreas-chave: prevenção em populações marginalizadas (jovens gays negros, transexuais, usuários de drogas). Relatórios do Kaiser Family Foundation (2020) apontam estagnação nos investimentos em educação e profilaxia.
- Em 2018, propôs cortes de US$ 800 milhões no orçamento global para HIV/AIDS — revertidos parcialmente pelo Congresso, mas reveladores da prioridade política.
Esses não são “erros de gestão”. São escolhas semióticas. Cada corte, cada ausência, cada silêncio repetido compõe uma sintaxe do esquecimento.
E o Dia Mundial de Luta Contra a AIDS — 1º de dezembro — torna-se, nesse contexto, um lugar de resistência simbólica: o momento em que a cultura insiste em nomear o que o poder insiste em apagar.
O fantasma que governa pelo não-dito
Trump não é um vilão no sentido trágico — não há profundidade moral em sua omissão. Ele é mais perigoso: é um operador de superfície. Sua relação com a AIDS não é de hostilidade declarada, mas de indiferença performática. E é justamente aí que reside seu poder simbólico.
Na semiótica peirceana, um signo pode ser um índice (ligado causalmente ao objeto), um ícone (semelhante a ele) ou um símbolo (convencional). Trump, em relação à memória da AIDS, funciona como um anti-símbolo: sua ausência não é neutra; significa ativamente. Ele é o signo do que foi excluído da narrativa nacional — e, ao ser excluído, estrutura o que permaneceu como legítimo: saúde como mérito, vida como produtividade, luto como privacidade.
Compare-se com Barack Obama, que em 2013 iluminou o South Portico da Casa Branca em vermelho — um gesto visual simples, mas carregado de ressonância: a arquitetura do poder, por uma noite, vestiu-se de memória. Já Trump, em seus discursos repletos de superlativos, nunca usou a palavra “luto” em conexão com a epidemia. Nunca nomeou um ativista. Nunca citou Larry Kramer. E nunca reconheceu que, nos EUA, a taxa de incidência entre homens negros gays e bissexuais é cinco vezes maior que a média nacional — dado do CDC, 2019.
Esse silêncio não é vazio. É cheio: de hierarquias tácitas, de corpos descartáveis, de uma biopolítica que opera menos por decreto do que por omissão protocolar.
A estética do ruído e o apagamento sutil
Trump domina o excesso: tuítes, comícios, confrontos midiáticos. Mas o apagamento da AIDS não exige gritos — basta não incluir. Nos pronunciamentos sobre saúde pública, o HIV aparece como dado técnico, nunca como drama humano. A linguagem é burocrática: “funding levels”, “program efficiency” — jamais “vidas”, “perda”, “justiça”.
É aqui que Baudrillard se torna útil: vivemos não mais na era da falsificação, mas do simulacro. O governo emite relatórios que simulam atenção à epidemia, enquanto desmantela seus pilares simbólicos — os rituais de reconhecimento, os espaços de luto coletivo, as vozes dos sobreviventes como autoridade moral.
O 1º de dezembro, então, não é apenas um dia no calendário. É um ato de desobediência semiótica: recusar-se a deixar o esquecimento operar sem testemunha.
Lembrar é um ato de resistência corporal
Esquecer não é um defeito da memória. É, muitas vezes, um exercício de poder.
Foucault mostrou como o Estado moderno administra vidas — biopolítica —, mas também como decide quais vidas valem a pena ser prolongadas. Mbembe radicalizou: em regimes de necropolítica, o poder se exerce não apenas controlando a vida, mas determinando quem pode morrer — e, crucialmente, quem pode ser esquecido depois de morrer.
A AIDS foi, desde o início, uma necropolítica em câmera lenta. Os primeiros mortos eram gays, pobres, negros, toxicodependentes — corpos já marcados como descartáveis. O silêncio de Reagan não era inércia; era uma forma de consentimento. O de Trump, mais sofisticado, não é hostilidade explícita, mas neutralidade letal: a recusa em transformar dados em testemunho, estatísticas em histórias, números em nomes.
Aqui, a estética entra em cena não como ornamento, mas como ética do visível.
Uma fotografia de David Wojnarowicz com a máscara de gás, um cartaz do ACT UP com a frase “GOVERNMENT BUREAUCRACY KILLED MY FRIENDS”, a fita vermelha presa a um paletó de lã — são gestos que forçam o olhar. São anti-arquivos: não esperam permissão para existir.
Trump, por sua vez, constrói uma estética do desvio. Seus discursos sobre saúde são filmados em planos médios, em ambientes brilhantes e impessoais — sem corpos, sem cicatrizes, sem mãos trêmulas segurando fotos de entes perdidos. A linguagem visual é de controle: tudo está sob revisão, mas nada está em luto.
O arquivo como campo de batalha
Derrida, em Archive Fever, lembra que arquivar é exercer poder: decidir o que permanece, como permanece, para quem permanece. O desmonte do Conselho Presidencial sobre HIV/AIDS não foi apenas administrativo — foi arquivístico. Significou: este assunto não merece um lugar permanente na memória institucional.
Mas os arquivos resistem. Os zines dos anos 1980, os vídeos caseiros de reuniões do ACT UP, os perfis do Facebook mantidos por familiares de mortos pela AIDS — são contra-arquivos. São memórias que se recusam a ser geridas.
E no 1º de dezembro, quando milhões usam a fita vermelha — mesmo que por hábito, mesmo que sem saber sua origem —, estão, sem querer, participando de um ritual subversivo:
dizer o nome de quem o poder decidiu calar.
Não se combate o esquecimento com fatos. Combate-se com rituais.
Trump não é o autor do silêncio sobre a AIDS. Ele é seu herdeiro mais eficiente — não porque gritou contra ela, mas porque soube que, numa era de saturação informativa, o apagamento não precisa de censura. Basta não repetir.
Não repetir o nome.
E não repetir a data.
Não repetir o luto.
A cultura, porém, é feita de repetições sagradas. O 1º de dezembro sobrevive não por decreto governamental, mas por insistência popular: velas acesas em praças, cartazes colados em muros, tuítes com #WorldAIDSDay escritos em memória de alguém cujo nome nunca entrou em nenhum relatório oficial.
É nessa repetição que a memória se torna política. Não uma memória nostálgica, mas uma memória combativa — que recusa a naturalização da perda, que exige que o corpo do outro seja visto enquanto ainda há tempo.
A grande lição simbólica de Trump no Dia Mundial de Luta Contra a AIDS não está no que ele fez, mas no que sua ausência revela:
o poder não teme o protesto. Tem medo do ritual.
Porque o ritual transforma dor em linguagem, luto em comunidade, ausência em presença.
Epílogo
Numa manhã de 1º de dezembro, em algum bairro de Nova York, uma jovem prende uma fita vermelha na mochila. Não sabe quem foi Larry Kramer. Nunca ouviu falar em The Denver Principles. Mas, ao dobrar o tecido entre os dedos, repete, sem saber, um gesto nascido de urgência e raiva:
a recusa de deixar um corpo desaparecer duas vezes — primeiro pela doença, depois pelo esquecimento.
Trump não está ali.
Mas seu fantasma está — na pergunta que a jovem não faz, mas que paira no ar:
Quem decidirá, daqui a trinta anos, se o meu corpo merece ser lembrado?
🎬 Apaixonado por narrativas e significados escondidos nas entrelinhas da cultura pop.
Escrevo para transformar filmes, séries e símbolos em reflexão — porque toda imagem carrega uma mensagem.