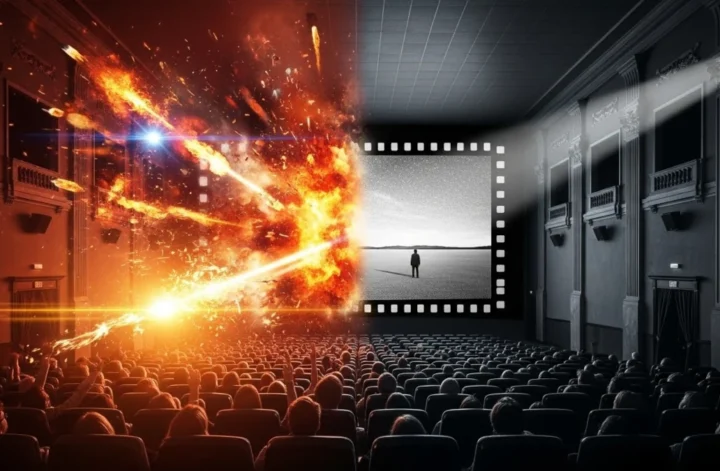Uma mulher segura uma câmera. À sua frente, um homem sangra no asfalto. Ela não se ajoelha. Não grita. Ajusta o foco.
Esse gesto — quase imperceptível, quase cotidiano — é o cerne de Guerra Civil (2024). Não se trata de uma anomalia ética, mas de uma mutação. A câmera já não é instrumento de denúncia. Tornou-se prótese da sobrevivência: o que não é filmado, não é real; o que é filmado, não precisa ser sentido.
O filme de Alex Garland não nos mostra como uma guerra civil começa nos Estados Unidos. Mostra como ela já terminou — dentro de nós. Antes dos tiros, houve o desaprendizado do olhar compassivo. Antes da fragmentação territorial, uma fragmentação do testemunho: todos registram, ninguém responde.
Esse é um texto sobre fotografia como linguagem de emergência.
Sobre o instante em que o frame substitui o grito.
E sobre o terror mais sutil de todos: não sermos capazes de distinguir, na imagem, entre urgência e conteúdo.
A Guerra que Não Nomeia Seus Mortos
Guerra Civil foi lançado nos cinemas dos Estados Unidos em 12 de abril de 2024, pela A24, com distribuição internacional variada conforme o mercado. Dirigido e roteirizado por Alex Garland (Ex Machina, Annihilation), o filme é uma produção britânico-estadunidense, rodado principalmente em locações na Geórgia e Louisiana — estados cujas paisagens rurais e subúrbios esvaziados servem como palco neutro para um conflito deliberadamente deslocalizado.
O elenco principal inclui Kirsten Dunst como Lee Smith, fotógrafa veterana do New York Times; Wagner Moura como Joel, repórter brasileiro radicado em Nova York; Cailee Spaeny como Jessie, jovem aspirante ao fotojornalismo; e Stephen McKinley Henderson como Sammy, colega de redação de Lee. Informação não confirmada: Garland afirmou em entrevista ao The Guardian que o roteiro foi escrito entre 2020 e 2022, num período em que “a ideia de Estado-nação parecia dissolver-se mais depressa do que a tinta das manchetes”.
O filme foi recebido com polarização crítica. Alguns o chamaram de “farsa ideológica”, outros, de “o primeiro grande filme sobre o fim da empatia coletiva”. Sua força não está no porquê da guerra, mas no como ela é vista — ou, mais precisamente, no como deixamos de vê-la como algo que nos diz respeito.
Garland recusa a didática do cinema político tradicional. Não há discursos de antagonistas, não há cartografia clara das facções (Western Alliance, FFA), não há explicações sobre como Washington caiu. Em vez disso, oferece uma geografia do olhar: estradas desertas, janelas quebradas, corpos sem legenda. O realismo aqui não é documental — é semiótico. Cada plano é um signo de colapso linguístico.
O que torna Guerra Civil singular é sua recusa em dramatizar ideias. Dramatiza, isto sim, a incapacidade de traduzi-las.
A Câmera como Signo de Sobrevivência
Em Guerra Civil, a câmera não é ferramenta de revelação — é escudo. Lee a segura como quem empunha uma arma descarregada: seu poder não está no que dispara, mas no que impede que a toquem. O ato de enquadrar torna-se ritual de autopreservação. Enquanto filma, ela não precisa decidir. Não precisa escolher entre correr, ajudar ou gritar. Basta ajustar o ISO.
Essa é a primeira mutação semiótica do filme: o testemunho perde seu valor de verdade e ganha valor de proteção. Jessie, a jovem aprendiz, imita os gestos de Lee com precisão fotográfica — mas sem a cicatriz moral que dá peso ao gesto. Para ela, filmar não é um compromisso com o real; é uma entrada no mito do repórter de guerra, um personagem que ela conhece mais por The Bang Bang Club e Spotlight do que por qualquer experiência de luto coletivo. Sua câmera é uma prótese de identidade, não de memória.
Corpos sem contexto, tiros sem origem
A direção de arte opera na lógica do apagamento simbólico. Bandeiras estão ausentes ou rasgadas. Siglas como — Western Forces (às vezes chamadas apenas de Western Alliance no filme) — são ditas em sussurros, quase como erros de digitação. Não há hinos, nem discursos inflamados, nem cartazes ideológicos. O que resta são marcas físicas: marcas de bala nas paredes, corpos em posições antinaturais, um carrinho de bebê virado na estrada.
Essa escolha estética é deliberada: Garland não quer que o espectador escolha um lado. Quer que perceba que, num certo estágio do colapso, não há lados — há apenas posições de tiro. A semiótica da guerra contemporânea não é feita de símbolos carregados, mas de ruído branco político: sons que preenchem o vazio, sem transmitir significado. Um tiroteio soa como um curto-circuito na linguagem.
O realismo frio: fotografia como negação da catarse
Rob Hardy, diretor de fotografia, trabalha com uma paleta deliberadamente desnutrida: tons de cinza-azeitona, bege hospitalar, verde-musgo desbotado. As cores não evocam emoção — evitam-na. A câmera se move em planos longos, sem cortes rápidos, sem trilha sonora para guiar o medo. O som ambiente é amplificado: o ranger de uma porta, o chiado de um walkie-talkie, a respiração trêmula antes do gatilho.
Esse estilo não é “realista” no sentido documental. É anti-catártico. O cinema clássico de guerra — de Apocalypse Now a A Lista de Schindler — oferece momentos de redenção, culpa, revelação. Aqui, não. A câmera permanece neutra enquanto um soldado é executado a sangue-frio. Não há música para nos avisar que algo moral colapsou. Há apenas o click da máquina: snap. O próximo quadro já está carregado.
Quando Ver Deixa de Ser um Ato Ético
Susan Sontag escreveu, em Diante da dor dos outros, que “quem fotografa sofre menos que quem é fotografado — e menos ainda que quem olha”. Guerra Civil atualiza essa frase com brutalidade técnica: hoje, quem fotografa sofre o mesmo, mas não mais da mesma maneira. Sua dor é a da impotência ritualizada — filmar para não gritar, enquadrar para não desmoronar.
A grande provocação do filme não é mostrar uma guerra nos EUA. É mostrar que, quando a linguagem falha — quando “democracia”, “liberdade”, “patria” viram palavras vazias —, o corpo assume a fala. Mas o cinema, por sua vez, tenta devolver o corpo à linguagem. E falha. Assim, o filme se torna um ato performativo de dúvida: ele não denuncia a guerra. Denuncia a incapacidade de denunciá-la com convicção.
O olhar armado — e desarmado
Walter Benjamin alertava que a reprodutibilidade técnica da imagem dissolveria sua “aura”, mas não previu que ela dissolveria também sua responsabilidade. Em Guerra Civil, o olhar é armado (a câmera substitui a arma) e, paradoxalmente, desarmado (não há mais destinatário para o testemunho). As fotos de Lee não serão publicadas em primeira página. Não haverá debate no Congresso. O jornal já fechou.
Estamos diante de um novo estágio: o testemunho pós-audiência. A imagem persiste — mas não como prova. Como resíduo. Como backup emocional de quem ainda acredita, contra todas as evidências, que alguém, um dia, perguntará: O que aconteceu aqui?
A cena do motel — em que Lee filma um homem sendo torturado atrás de uma porta de vidro — é o ápice dessa crise. Ela poderia intervir. Poderia soltar a câmera, chutar a porta, gritar. Mas não o faz. Não por covardia. Por uma convicção mais sombria: intervir não mudaria o quadro final. Apenas a tornaria parte dele — sem legenda, sem contexto, sem alcance.
Villém Flusser diria que ela está presa no “programa da câmera”: não fotografa o mundo; fotografa o que a câmera permite ver. E a câmera, hoje, só permite ver como espectador.
Não Estamos Filmando a Guerra — Estamos Filmando o Fim do Testemunho
Guerra Civil não prevê um futuro. Diagnostica um presente já consolidado: vivemos em sociedades que registram com fidelidade técnica e com indiferença moral. A câmera do celular, a live do tiroteio, o story do protesto invadido pela polícia — tudo isso já habita o mesmo regime simbólico do filme. Não filmamos para lembrar. Filmamos para provar que estávamos lá — ainda que tenhamos estado apenas como espectros.
O gênio de Garland está em não julgar Lee. Ele não a transforma em vilã ou heroína. Ela é o que somos quando o mundo excede nossa capacidade de resposta: um olho que se esqueceu de ser parte de um corpo.
O filme não oferece esperança. Oferece clareza. E, às vezes, clareza é o primeiro ato de resistência.
Epílogo: O Último Quadro
A última imagem de Guerra Civil não é de Lee. É de Jessie, sozinha, em frente ao Capitólio em chamas. Ela ergue a câmera. A tela escurece — mas não antes de ouvirmos o click.
Não sabemos o que ela filma.
Não sabemos se alguém verá.
Sabemos apenas que, enquanto houver click, haverá alguém tentando provar que ainda está vivo.
🎬 Por que devemos assistir a Guerra Civil?
Porque este não é um filme sobre o que acontecerá — é sobre o que já está acontecendo com nossa capacidade de nos importar. Enquanto outros filmes nos convidam a escolher um lado, Guerra Civil nos obriga a encarar o silêncio que antecede a escolha: aquele instante em que vemos uma injustiça e, antes mesmo de pensar em agir, pensamos em como registrá-la. Esse hiato — entre ver e agir — é o território do filme. E é, também, o nosso.
Assistimos não para entender uma guerra fictícia, mas para reconhecer os sintomas de uma epidemia real: a anestesia do olhar. Garland não quer que saiamos do cinema indignados com o governo, com os militares ou com as facções. Quer que saiamos inquietos com nossa própria postura diante da tela — seja ela de cinema, de celular ou de câmera de segurança. Guerra Civil é um espelho que não reflete rostos, mas gestos: o gesto de filmar em vez de socorrer; de compartilhar em vez de intervir; de arquivar em vez de resistir.
Ele não nos mostra o colapso da ordem política. Mostra o colapso da ética do olhar — e, nisso, é o filme mais urgente da década.