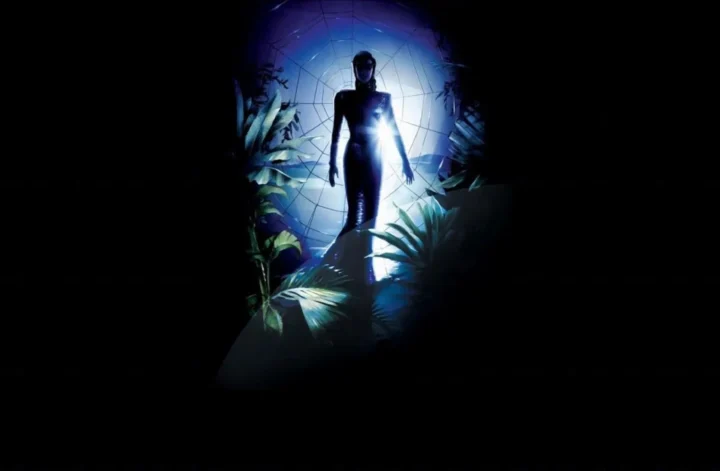Nenhum asteroide cai duas vezes no mesmo lugar — mas o medo sim.
Ele retorna em loops de CGI barato, em diálogos que ecoam Armageddon, Independence Day, 2012 — como um disco arranhado cuja música ninguém mais ouve, mas que continua girando por inércia institucional. 12 Horas para o Fim do Mundo, filme russo de 2019 dirigido por Dmitriy Kiselev, não é um desastre cósmico; é um sintoma. Nele, o apocalipse já não é um evento, mas uma formalidade — um protocolo burocrático que se cumpre mesmo quando ninguém acredita mais na ameaça.
O que nos assusta não é a rocha de 12 quilômetros vindo em nossa direção.
É o fato de que, diante dela, os personagens gritam, correm, discursam — mas seus gestos não carregam peso simbólico. São atores em busca de um mito que já se desfez. O filme não fracassa por ter efeitos ruins ou roteiro previsível. Fracassa por ser perfeitamente funcional — e é justamente nessa eficiência mecanizada que reside seu valor: ele documenta, sem saber, o esgotamento da catástrofe como categoria existencial.
Em um tempo em que vivemos múltiplos “fins do mundo” — climático, democrático, epistêmico —, talvez 12 Horas para o Fim do Mundo seja menos um filme e mais um espelho distorcido: nele, o planeta pode explodir, mas a narrativa já morreu antes do impacto.
O Filme como Artefato Geopolítico e Estético
12 Horas para o Fim do Mundo (12 Chasov do kontsa sveta, 2019) é uma produção russa da Central Partnership, dirigida por Dmitriy Kiselev — cineasta e produtor ligado à televisão estatal, conhecido por documentários patrióticos e longas de entretenimento de médio alcance. O filme foi lançado diretamente em plataformas digitais, sem estreia teatral significativa, e rapidamente desapareceu do radar crítico internacional. Informação não confirmada se houve exibição limitada em cinemas regionais.
Seu enredo segue arcos familiares: um asteroide detectado tarde demais, uma equipe de elite reunida às pressas, um plano de última hora envolvendo sacrifício, traição e um computador que quase não dá certo. Mas sua importância não está na originalidade — e sim no timing.
Lançado em um momento de crescente desconfiança nas grandes narrativas (científicas, políticas, religiosas), o filme surge quando o Ocidente já havia saturado o gênero com melodramas de catástrofe (como Don’t Look Up, 2021) e a Rússia redobrava esforços para construir uma “identidade cultural soberana” via cinema — nem sempre com coerência estética, mas com insistência simbólica.
Essa obra não tenta rivalizar com Hollywood em orçamento; tenta, inconscientemente, substituir sua função mítica. Não é um blockbuster, mas um placeholder: um espaço vazio onde antes se erguia o drama cósmico do humano diante do abismo. Agora, o abismo não inspira terror — apenas um bocejo burocrático.
A Estética do Alarme que Não Soa
A fotografia do filme oscila entre o estilo telefilme de catástrofe dos anos 2000 e uma paleta digital pálida, como se a cor tivesse sido sugada pela própria inevitabilidade do desfecho. Os interiores do centro de controle — repletos de telas piscando vermelho, teclados retroiluminados e mapas 3D do asteroide — não evocam tensão, mas rotina. São signos que já não remetem a ameaça, apenas à memória dela. É o que Barthes chamaria de signo vazio: o referente (o perigo real) se descolou do significante (o vermelho piscante), deixando apenas um automatismo visual.
O tempo contado, mas não sentido
O título promete 12 horas — um limite dramático, quase trágico. Mas o filme não constrói duração, apenas marcação. As horas passam em cortes rápidos de relógios digitais, sem variação rítmica, sem peso.
O tempo cinematográfico, que em High Noon ou Dunkirk se torna personagem, aqui é mero contador regressivo, como um cronômetro de forno. O espectador não sente a pressão do fim — sente a redundância dele. O apocalipse não se aproxima; espera educadamente, como um ônibus atrasado.
Personagens como campos de preenchimento
O cientista cético (mas não cético o suficiente), o militar patriótico (mas sem pátria definida), a heroína técnica (mas sem história), o traidor previsível (traído antes mesmo de agir): todos são arquétipos em estado de decomposição simbólica. Não há contradição interna, nem ambiguidade ética. São funções narrativas, não figuras humanas. Eco diria que são fantasmas de personagens — presenças que só existem porque o roteiro precisa de alguém para apertar o botão “SIM” ou “NÃO” no momento certo.
O vazio não está na atuação; está na ausência de demanda por profundidade. O filme não pede que acreditemos neles — apenas que os reconheçamos.
A Catástrofe como Ritual Sem Fé
Vivemos numa era de apocalipse contínuo. O aquecimento global, a guerra nuclear latente, os colapsos sistêmicos: não são eventos futuros, mas condições presentes. Diante disso, o medo não desapareceu — foi deslocado.
Deixou de ser uma emoção que mobiliza e passou a ser um protocolo emocional: simulamos ansiedade porque é o que se espera, mas nossa ação não muda. 12 Horas para o Fim do Mundo encena exatamente isso: todos os personagens fazem como se o mundo estivesse acabando — mas suas vozes não tremem, seus olhos não se enchem d’água, seus corpos não se curvam diante do inominável.
O filme é um ensaio técnico do fim, não sua vivência.
Baudrillard já previra: quando a cópia precede o original
Jean Baudrillard escreveu que, em tempos de hiper-realidade, “a guerra não começa mais com uma declaração — começa com um comunicado de imprensa”. O mesmo vale para o fim do mundo: ele não começa com um impacto, mas com uma simulação. O asteroide do filme não é uma ameaça; é um evento midiático pré-aprovado.
A NASA russa (ou sua versão ficcional) não descobre o corpo celeste — confirma o que o roteiro já decidiu. A realidade não é representada: é substituída por sua encenação. Não há catástrofe — há briefing de catástrofe.
O silêncio do asteroide
Em 2001: Uma Odisseia no Espaço, o monólito emudece a narrativa. Em Melancolia, Lars von Trier faz o planeta aproximando-se em câmera lenta, com Wagner como lamento cósmico. Aqui, o asteroide entra no campo visual sem solenidade, sem música temática, sem presença.
É um objeto poligonal que cruza o céu como um drone perdido. Não há sublime — apenas esquecimento do sublime. O cinema um dia usava a destruição para falar da fragilidade da civilização. Hoje, usa a civilização para esconder o fato de que já não sabemos o que é destruição.
O Fim da Crença — e o que Resta Depois
Se a arte é o que resiste ao esquecimento, 12 Horas para o Fim do Mundo não é arte — é arquivo. Arquivo de uma cultura que ainda repete os gestos do drama, mas já perdeu a capacidade de acreditar neles.
O filme não falha por ser ruim; falha por ser suficiente. É suficientemente coerente para não provocar riso, suficientemente grave para não ser paródia, suficientemente vazio para não nos tocar. E é nesse “suficientemente” que reside seu valor semiótico: ele é o retrato de uma época que mantém os rituais da urgência, mas já enterrou a fé no que eles significavam.
Não somos mais Hamlet diante da caveira — somos Hamlet repetindo o monólogo “Ser ou não ser” em um call center, com fone de ouvido e pausa para o café.
O que o filme revela não é o fim do mundo.
É o fim da ideia de que o mundo pode ser salvo por uma história bem contada.
Epílogo: Uma Última Cena que Nunca Acontece
Imaginemos um corte final que o filme não tem:
Depois do impacto, depois do brilho, depois do silêncio — uma câmera submersa em escombros lentamente se reativa. A lente está rachada. A bateria dura 17 segundos. Nenhum sinal de vida. Apenas poeira cósmica girando em câmera lenta.
E então, nos últimos quadros, antes de desligar, a câmera captura — não um sobrevivente, não uma esperança — mas um pôster meio queimado, ainda preso à parede de concreto rachado. Nele, lê-se, em cirílico desbotado:
“O FUTURO É NOSSO”.
A frase não é irônica. É arqueológica.
Por que (não) assistir ao filme?
Assistir a 12 Horas para o Fim do Mundo não é uma escolha estética — é uma decisão arqueológica.
O filme não oferece prazer narrativo, nem choque visual, nem revelação emocional. Mas, se você o observar não como entretenimento, mas como fóssil cultural, algo se mostra: a forma como uma sociedade simula a própria urgência quando já não crê em redenção.
É como folhear um manual de emergência escrito em uma língua que ninguém mais fala — ainda com as ilustrações perfeitas, os passos numerados, o tom solene… mas sem ninguém capaz de executá-los.
Você não sairá do filme com uma nova visão do apocalipse.
Sairá com a incômoda certeza de que o apocalipse já passou — e nós nem notamos, porque estávamos ocupados conferindo se o cronômetro estava no zero.
🎬 Apaixonado por narrativas e significados escondidos nas entrelinhas da cultura pop.
Escrevo para transformar filmes, séries e símbolos em reflexão — porque toda imagem carrega uma mensagem.