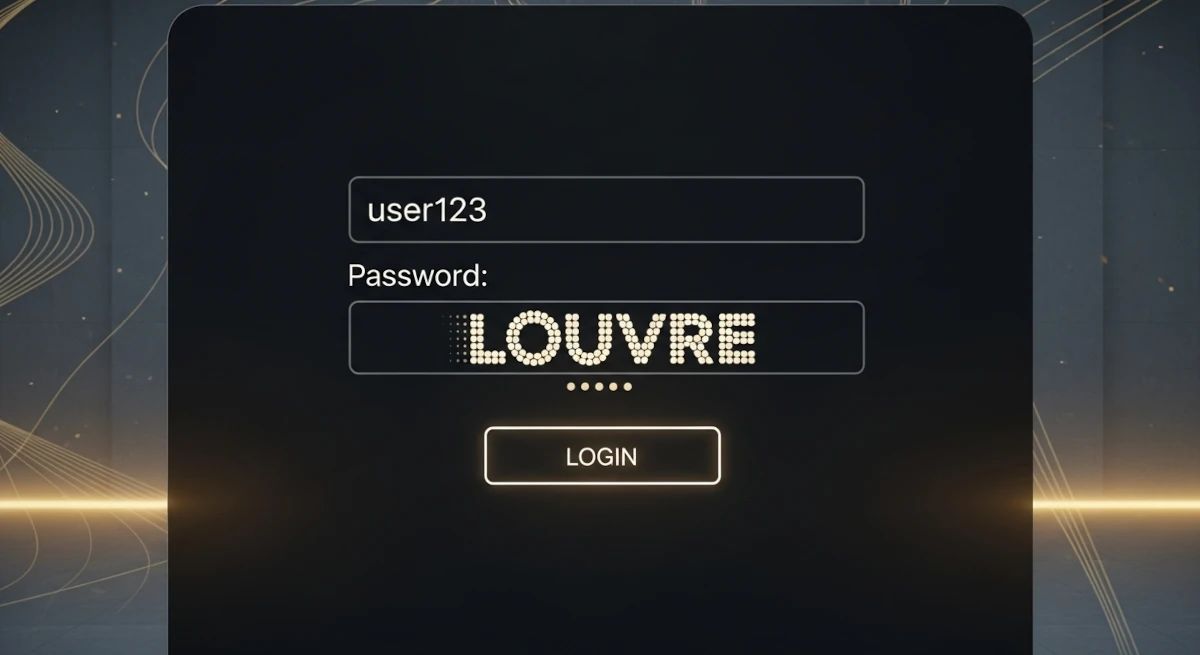A arquitetura é a linguagem mais perene do poder. Ela não apenas abriga instituições, mas as corporifica em concreto, vidro e linha. As colunas que sustentam, as cúpulas que abrigam, os planos inclinados que conduzem o olhar – cada elemento é um verbo no discurso mudo da autoridade. Em Brasília, esse discurso foi escrito com audácia utópica por Oscar Niemeyer e Lúcio Costa: uma cidade-raiz, uma máquina de governar erguida do cerrado como promessa de futuro.
Em 8 de janeiro de 2023, essa mesma linguagem petrificada tornou-se suporte para outra escrita, efêmera e violenta. Os palácios do Planalto, do Congresso e do Supremo, que deveriam ser lidos como capítulos da democracia, foram transformados em telas sobre as quais uma multidão performou um grafismo bruto de revolta.
O que aconteceu naquele domingo ensolarado não foi, em sua essência mais profunda, uma tentativa de tomada de poder no sentido estratégico-militar clássico.
Foi um ato massivo de violência simbólica, onde pichar um quadro, quebrar um vidro, ou sentar na cadeira presidencial eram gestos carregados de um significado que transcendia a mera destruição. Eram sinais de um corpo político que, incapaz de se fazer ouvir no regime da palavra e do voto, explodia no registro da imagem e do símbolo.
Este texto é uma leitura desse evento como texto cultural: uma análise do dia em que a política brasileira deixou os gabinetes e os discursos para travar sua batalha definitiva no campo, sempre movediço, do imaginário.
O Enquadramento do Fato: Cronologia de um Episódio Icônico
O domingo, 8 de janeiro de 2023, seguiu-se a uma semana da posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 1º de janeiro, e a meses de acirrada polarização política alimentada por narrativas de fraude eleitoral não comprovadas.
Por volta das 14h30, após um comício em frente ao Quartel-General do Exército, uma multidão estimada em cerca de 4 mil pessoas – muitas vestindo as cores verde e amarelo da bandeira nacional – rompeu as barreiras de segurança e invadiu simultaneamente os três edifícios-símbolo da Praça dos Três Poderes.
A sequência de destruição foi registrada em tempo real, tanto pelas câmeras de segurança quanto pelos celulares dos próprios invasores.
No Congresso Nacional, pessoas subiram à rampa do projeto de Niemeyer, arrombaram portões de vidro e vagaram pelos plenários, onde um homem foi fotografado com os pés sobre a mesa da presidência da Câmara.
No Palácio do Planalto, mobiliário histórico foi vandalizado, janelas quebradas e um quadro do artista modernista Di Cavalcanti, avaliado em milhões, foi perfurado.
E no Supremo Tribunal Federal (STF), a sala da ministra Rosa Weber foi particularmente devastada, com computadores destruídos e documentos espalhados. O prejuízo material inicial foi calculado em dezenas de milhões de reais.
Reação
A reação institucional e internacional foi rápida e uníssona na condenação. O presidente Lula, em visita a Araraquara-SP, decretou intervenção federal na segurança do Distrito Federal. O governador do DF, Ibaneis Rocha, foi afastado temporariamente pelo STF. À noite, forças de segurança retomaram o controle dos prédios em uma operação que resultou na prisão de mais de 1.800 pessoas.
Líderes mundiais, do presidente norte-americano Joe Biden ao francês Emmanuel Macron, classificaram os ataques como um assalto à democracia. A recepção midiática global enquadrou o evento como um “Cerco ao Capitólio Brasileiro“, estabelecendo um paralelo imediato – ainda que com diferenças contextuais profundas – com a invasão do Capitólio dos EUA em 6 de janeiro de 2021.
A Marca no Patrimônio
Um detalhe, entre tantos, sintetiza a natureza do ataque. O painel “As Mulatas” (1962), de Di Cavalcanti, foi atingido por golpes no Palácio do Planalto.
A obra não era um obstáculo funcional; era um marco da cultura brasileira moderna, pendurada em um local de passagem.
Sua violação não tinha valor tático. Tinha valor simbólico. Era um gesto contra a ideia de Brasil que aquela arte representava, uma camada de significado a mais no grafismo de ódio que se escrevia sobre as paredes.
A informação, confirmada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), ancorava a abstração do conceito de “violência simbólica” em um objeto concreto, danificado de forma irreversível.
A Arquitetura como Símbolo a Ser Profanado
Brasília nunca foi apenas uma cidade; foi um projeto gráfico de poder.
Lúcio Costa desenhou a planta no formato de um avião – ou de uma cruz – apontando para o futuro. Oscar Niemeyer deu-lhe curvas de concreto que desafiavam a gravidade e a tradição colonial. Juntos, criaram uma narrativa espacial da democracia moderna, onde a abstração cívica ganhava forma.
O Congresso Nacional, com sua cúpula convexa (o Senado) e a côncava (a Câmara), sob a dupla torre dos gabinetes, é uma aula de semiótica arquitetônica: o povo abrigado, os representantes em diálogo vertical. O Palácio do Planalto, com suas colunas externas esbeltas e o rampa cerimonial, apresenta o poder executivo como algo sustentado pelo povo (as colunas) e acessível a ele (a rampa). O STF, com suas linhas austeras e sua estátua da Justiça sem venda, proclama uma racionalidade serena.
O ataque de 8 de janeiro inverteu brutalmente essa sintaxe.
A rampa do Planalto não foi percorrida por autoridades em posse, mas por uma massa em fúria. As câpulas do Congresso, vistas de dentro, testemunharam não o debate legislativo, mas o caos de corpos gritando.
A profanação substituiu a reverência. O antropólogo Roger Caillois define o sagrado como aquilo que é separado, intocável, regido por rituais de aproximação.
Os três poderes são a secularização do sagrado político.
Ao adentrá-los sem mediação ritual – quebrar vidros, arrombar portas, urinar em corredores –, a multidão não buscava ocupá-los militarmente. Buscava dessacralizá-los.
O objetivo era macular a aura de autoridade, reduzir o símbolo intocável a um mero edifício sujo e violável. A violência física era, antes de tudo, desprezo pelo pacto simbólico que aquelas estruturas representam.
O Dicionário Visual dos Invasores
Se a arquitetura era o suporte, os invasores foram seus pintores, usando um repertório limitado mas carregadíssimo de signos. Sua performance construiu um idioma visual da revolta que pode ser decodificado.
A Paleta Monocromática
O verde e amarelo, esvaziados de sua complexidade histórica e reduzidos a uniformes, bandeiras-capas e pintura corporal.
Não era a celebração da pluralidade brasileira, mas a apropriação exclusivista da nacionalidade.
Era a cor como demarcação de tribo e como blindagem simbólica – “não pode ser anti-patriota quem se veste da pátria”.
A Gramática dos Corpos
Os gestos falavam mais alto que os gritos.
O corpo desnudo em frente ao Congresso era um ato primitivista de desafio. Sentar na cadeira presidencial ou colocar os pés sobre a mesa eram poses de usurpação simbólica, uma pantomima do poder almejado. Urinar nos tapetes e corredores era o gesto máximo de humilhação animal, reduzindo o espaço sagrado a mictório.
Os Objetos-Fetiche
A busca pela faixa presidencial (que não estava lá) revelava um pensamento mágico: a posse do objeto confere a autoridade do cargo.
Paralelamente, o celular era o fetiche contemporâneo indispensável. Cada gesto de destruição era seguido pelo gesto de registrar. A validação da ação não estava em conquistar o território, mas em produzir a imagem que circularia nas redes, transformando o vândalo em ícone de sua própria narrativa.
Os Grafismos Literais
As pichações – “POVO”, “PF”, “Vou mudar o Brasil” – eram a tentativa desesperada de acrescentar uma legenda à imagem.
A linguagem verbal, reduzida a slogans e xingamentos, confirmava o esgotamento do diálogo. As frases, escritas sobre mármore e madeira nobre, completavam a violência visual com uma violência textual, fechando o circuito do discurso do ódio.
Produtor de Conteúdo
Este dicionário não foi improvisado.
Ele é o produto de anos de uma cultura visual política digital que glorifica a confrontação, estetiza a resistência e reduz o complexo ao binário.
O invasor de 8 de janeiro era, antes de tudo, um produtor de conteúdo de uma revolução simulada, atuando para a câmera do seu próprio celular, num palco que ele mesmo ajudava a destruir.
“Não se tratava de um excesso individual, mas de um modelo de ação política já normalizado no ecossistema digital.”
Do Simbólico ao Real: O Que Se Quebra de Fato?
A violência simbólica, como teorizada por Pierre Bourdieu, é aquela que se exerce com a cumplicidade tácita de quem a sofre, por meio de signos e representações que impõem sentidos e hierarquias. O 8 de janeiro apresenta uma inversão perversa desse conceito: foi uma violência simbólica exercida pelos que se julgavam dominados contra os símbolos do domínio que rejeitavam.
Ao riscar a tela do poder, o gesto buscava apagar uma narrativa – a da democracia representativa plural, das instituições como árbitros – para tentar reescrever outra, de suposto “povo ungido” contra “elites corruptas”. Esse é o cerne do iconoclasmo político contemporâneo: não se destrói a imagem por ser pecado, como nos quebra-santos medievais, mas por ser a representação visível de um sistema de poder considerado ilegítimo.
O quebrado não é o vidro ou o quadro, mas a aura de inviolabilidade que mantém a coesão social em torno daqueles símbolos.
Esse ato, porém, vive na tensão dialética entre o simbólico e o real. Ao profanar o símbolo, os invasores desencadearam consequências materiais e jurídicas severas – prisões, processos, condenações.
A fúria iconoclasta esbarrou na fria materialidade da lei.
A performance, destinada a demonstrar força, revelou, em última análise, uma fraqueza política profunda: a incapacidade de operar e transformar a realidade dentro das regras do jogo democrático, levando à explosão catártica no campo do imaginário.
O evento, portanto, não sinaliza o fim de uma ordem, mas a crise aguda de sua linguagem. Quando os símbolos compartilhados são rejeitados por uma parte significativa do corpo social, a comunicação política colapsa, e o que resta é o ruído ensurdecedor de corpos batendo contra portas de vidro.
Conclusão: A Restauração é Possível?
O 8 de janeiro deixou marcas duplas.
As primeiras, nos prédios de Niemeyer, são em grande parte reparáveis: vidros repostos, pinturas restauradas, móveis reconstruídos. O trabalho meticuloso dos restauradores do Iphan é uma metáfora literal do esforço de reparação institucional.
A segunda marca, porém, é indelével: ficou impressa no imaginário nacional. O país agora carrega as imagens de seu próprio coração político violado. Elas se somam a um álbum de violências simbólicas que parecem definir a era: o Capitólio estadunidense, as estátuas derrubadas, os memoriais incendiados.
A pergunta que permanece não é sobre a solidez do concreto, mas sobre a resiliência do símbolo. Um palácio restaurado continua sendo o mesmo símbolo? Ou a memória da profanação se incorpora a ele, como uma cicatriz que modifica seu significado?
A democracia, ao contrário da arquitetura modernista, não é um projeto concluído e imutável. Ela é uma narrativa em permanente escrita e disputa. O episódio de Brasília mostrou que essa disputa agora se trava também no registro bruto e visceral da imagem, do gesto e da destruição performática.
A lição final é amarga: quando as palavras perdem o sentido compartilhado, os atos de violência tornam-se a linguagem última. Cabe à sociedade, após o choque, decidir se responde no mesmo idioma ou se é capaz de recompor, pacientemente, uma gramática comum – uma que consiga inscrever, sobre as telas ainda marcadas do poder, projetos de futuro que sejam, de fato, coletivos.
🎬 Apaixonado por narrativas e significados escondidos nas entrelinhas da cultura pop.
Escrevo para transformar filmes, séries e símbolos em reflexão — porque toda imagem carrega uma mensagem.