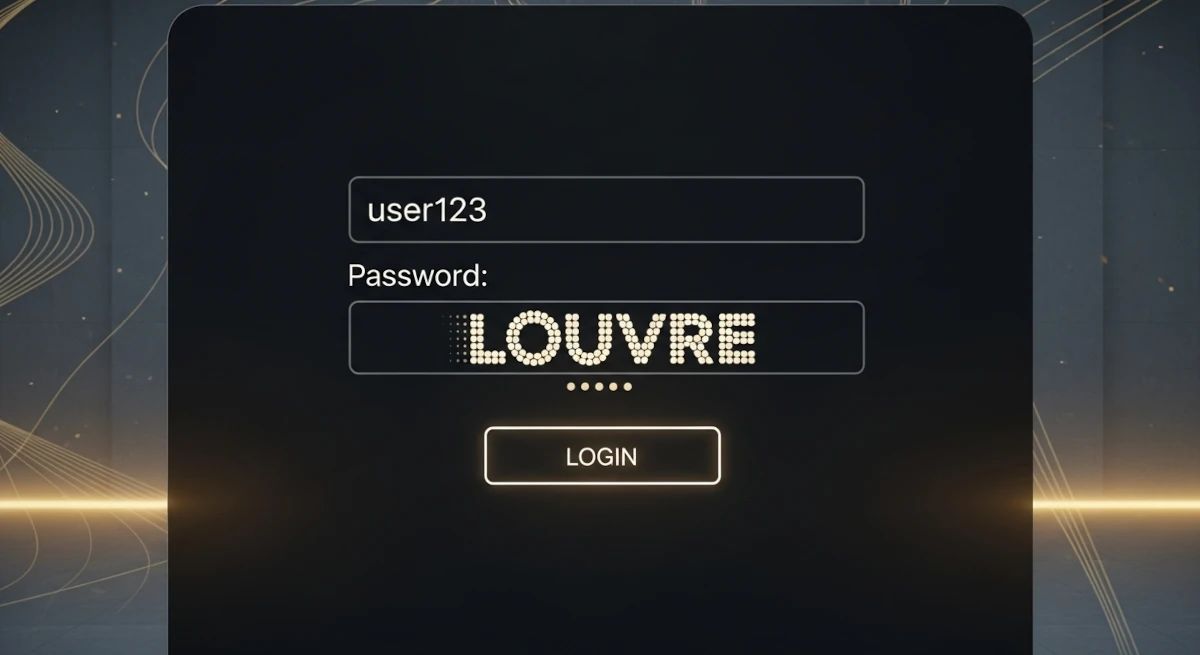O Código do Tapir: Semiótica, Afeto e a Reconfiguração do Voto Popular no Brasil
Introdução
O maior enigma político brasileiro das últimas décadas está estampado em adesivos no vidro de caminhões, broches em paletós e bandeiras em carreatas. É um mamífero herbívoro de focinho comprido, um animal que muitos eleitores jamais viram na natureza, mas que aprenderam a reconhecer como um chamado à guerra.
O tapir — símbolo menos massivo do que a bandeira verde-amarela, a arma ou o mito, mas revelador enquanto signo de nicho militante — é mais que uma figura partidária. Ele funciona aqui como um atalho semiótico para uma pergunta que desconcerta análises tradicionais: por que parcelas significativas do eleitorado pobre e periférico, historicamente alinhado a projetos de esquerda e redistribuição, votam em uma direita conservadora que, em sua plataforma econômica ortodoxa, parece contrariar seus interesses materiais imediatos?
A resposta óbvia – a do cálculo econômico racional – falha em explicar a força do laço.
A política como linguagem
O fenômeno exige um mergulho em águas mais profundas e turvas: as do afeto, da identidade e do simbolismo político. Não se trata mais apenas de o que se promete, mas de como se fala, de quem se representa ser e, principalmente, contra quem se ergue a bandeira.
Este artigo propõe uma arqueologia do voto popular pela direita no Brasil, investigando como uma estética de autenticidade e uma economia moral do respeito reconfiguraram lealdades eleitorais. Analisaremos dados concretos, mas sempre guiados pela pergunta central: o que esse deslocamento revela sobre a transformação da própria linguagem política e do desejo por reconhecimento na democracia brasileira?
O voto, afinal, pode ser menos uma planilha de benefícios e mais uma afirmação existencial.
Antes de avançar, um cuidado conceitual: “pobre” não é um bloco homogêneo, e “direita” tampouco é um partido único com uma só gramática. Há diferenças profundas entre periferias urbanas e interior, entre Norte/Nordeste e Sul/Sudeste, entre economia informal e emprego formal, entre públicos evangélicos, católicos e secularizados, entre juventudes digitais e gerações que ainda votam por redes presenciais. Da mesma forma, a “direita” inclui desde liberalismo econômico até conservadorismo moral, desde bolhas antissistema até governismo pragmático. Quando uso essas categorias, faço-o como atalhos analíticos, não como identidades estáveis.
Os Números do Deslocamento
O fenômeno é um dado mensurável. Nas eleições presidenciais de 2018, Jair Bolsonaro (PSL) venceu em 72,5% dos municípios brasileiros, incluindo vastas regiões do Norte e Nordeste, tradicionalmente bastiões petistas. Pesquisas pós-eleitorais do Datafolha revelaram um eleitorado complexo: Bolsonaro venceu entre os que ganhavam até 2 salários mínimos (44% a 39% contra Haddad) e teve 51% dos votos dos que têm apenas ensino fundamental.
Nota metodológica: os percentuais citados aqui devem ser lidos como recortes, não como sentenças definitivas sobre o “voto do pobre”. Pesquisas variam conforme definição de renda, amostra, desenho de questionário e momento de coleta. Ainda assim, tomadas em conjunto (TSE e levantamentos de institutos como Datafolha e Ipespe), elas sinalizam um ponto robusto: o voto popular contemporâneo não pode mais ser descrito apenas como alinhamento automático a um campo ideológico “natural”, mas como terreno de disputa real.
Em 2022, mesmo na derrota, o padrão se manteve e até se aprofundou em bolsões de pobreza. Um estudo do Ipespe apontou que, no segundo turno, Lula venceu por 60% a 40% entre os que ganham até 2 salários mínimos – uma vitória inquestionável, mas que deixa uma margem de 40% desse estrato apoiando a candidatura de direita. Em estados como Rondônia, Acre e Roraima, Bolsonaro venceu com folga em todas as faixas de renda.
Uma Breve Arqueologia do “Povo” na Política Brasileira
Para entender a ruptura, é preciso mapear o terreno anterior.
Seria um erro atribuir esse deslocamento a uma única causa. Crise econômica, insegurança pública, desemprego, ressentimentos morais, a expansão do campo evangélico e o antipetismo (especialmente após 2014–2016) são variáveis relevantes. Mas este ensaio propõe um deslocamento de foco: essas forças não atuam fora da linguagem. Elas ganham potência política quando são traduzidas em narrativas claras, símbolos reconhecíveis e inimigos nomeáveis. Em outras palavras, o simbólico não substitui o material — ele é o modo como o material se torna politicamente inteligível.
Por décadas, a esquerda, com o PT à frente, construiu uma hegemonia simbólica sobre a representação dos pobres. A imagem era a do trabalhador, do movimento social organizado, do oprimido em luta por direitos. A política era um projeto de inclusão material e simbólica – o pobre no orçamento, na universidade, no consumo e, finalmente, no poder.
O lulismo foi o ápice dessa síntese.
Contudo, essa mesma construção gerou suas próprias fissuras. Parte desse “povo” ascendente começou a se enxergar não mais como “classe”, mas como indivíduos que “venceram na vida”.
A categoria do “cidadão de bem”, antiga na retórica conservadora, encontrou um terreno fértil: ela não nega a pobreza, mas a ressignifica, oferecendo uma identidade baseada não na luta coletiva, mas no mérito pessoal, na ordem e na defesa da propriedade (mesmo que simbólica) contra ameaças internas e externas. O PT deixou de ser o único intérprete do povo. A direita ofereceu outra tradução.
Semiótica do Discurso: A Tradução de Valores em Símbolos
A política moderna é uma batalha de tradução. Conceitos abstratos e ameaçadores precisam se tornar signos palpáveis e desejáveis. A direita brasileira, especialmente a partir de 2013, tornou-se uma eficiente máquina de tradução semiótica.
Ordem deixou de ser uma função estatal abstrata para se materializar no símbolo da arma (e no projeto de facilitar seu porte). A nação, conceito difuso, foi reduzida e intensificada na bandeira brasileira, transformada de símbolo cívico em estandarte de guerra identitária, vestida no corpo como segunda pele.
A família, núcleo afetivo, foi armada como trincheira contra uma “ideologia de gênero” apresentada como invasora e corruptora.
O processo é uma síntese populista: pega-se um mal-estar real (a violência, a crise de valores, a corrupção) e oferece-se um inimigo concreto e uma solução simbólica. A eficácia não está no plano programático, mas no plano do reconhecimento imediato.
O eleitor não precisa dominar jargões econômicos; precisa apenas reconhecer seu próprio medo e sua própria bandeira. O tapir funciona como um atalho simbólico desse processo: um animal dócil, porém forte, nativo, “autêntico”, que luta por sobrevivência. Ainda que circule de modo menos universal do que outros emblemas, sua função é a mesma: condensar identidade em imagem, e imagem em pertencimento.
Em entrevistas de rua, essa economia moral aparece com uma clareza brutal, quase sempre fora do vocabulário acadêmico. Algo como: “eu sei que não vai melhorar minha vida de um dia pro outro, mas pelo menos esse lado fala do que eu vivo: bandido, respeito, família. Eu cansei de ser tratado como número.”
Não é uma planilha: é uma demanda por reconhecimento.
Ele não fala de projetos, fala de identidade e resistência.
Estética da Proximidade: O Corpo, a Fala e a Quebra do Protocolo
Se a esquerda hegemônica falava a linguagem das instituições (sindicatos, ONGs, academia), a nova direita falou a linguagem das ruas digitais e das mesas de bar. Isso se traduziu numa estética da autenticidade calculada.
Compare-se dois modos de presença: os discursos televisivos de Lula, construídos na cadência do storytelling militante e na referência histórica, com os lives de Bolsonaro, em mangas de camisa, no sofá da casa, reclamando do jantar, usando gírias (“mito”, “patriota”) e atacando inimigos pelo nome.
Um parecia falar para o povo; o outro, falar como o povo (uma performance, claro, mas eficaz).
Essa quebra do protocolo político foi lida, especialmente por setores pouco escolarizados, não como grosseria, mas como transparência.
A polêmica constante não era um bug, mas um feature: ela mantinha o campo emocional sempre aquecido, transformando a política num serial diário de heroísmo e vilania, muito mais palatável que a análise enfadonha de indicadores sociais.
O vira-casacas, o “homem comum” enfrentando o sistema, é um arquétipo poderoso. Ele oferece dignidade através da identificação, não através da promessa.
A Economia Moral do Voto: Dignidade, Respeito e Inimigo Comum
É aqui que chegamos ao núcleo da questão. A cientista política americana Lilliana Mason fala do “avanço da política de identidade”, onde lealdades partidárias se tornam identidades sociais totais, como religião ou etnia.
No Brasil, o voto de baixa renda pela direita pode ser lido como a busca por uma nova economia moral, onde a moeda não é apenas o benefício material, mas o respeito social e a restauração de uma hierarquia percebida como ameaçada.
Para um homem pobre, muitas vezes desrespeitado no cotidiano pela polícia, pelo patrão, pelo Estado lento, a posse simbólica de uma arma (mesmo que apenas discursiva) promete agência e poder. Para uma família que ascendeu um degrau econômico via programas sociais ou crédito, mas se vê cercada pela violência e por mudanças culturais velozes, a defesa da família tradicional e da ordem é a defesa do patrimônio simbólico mais valioso.
O inimigo comum (a esquerda “corrupta”, os “vagabundos”, os “ativistas”) cumpre um papel crucial: ele unifica um grupo heterogêneo (o pobre empreendedor, o pequeno comerciante, o policial militar, o evangélico) sob uma mesma bandeira, criando um sentimento de comunidade e propósito mais forte que a lealdade de classe.
O voto, nessa chave, deixa de ser um contrato para o futuro e se torna uma assinatura no presente. É a afirmação: “Eu existo, eu importo e eu pertenço a este lado”. A direita soube vender não um plano de governo, mas um kit de identidade.
O Preço do Afeto: Quando o Simbólico Subverte o Material
O ato político mais radical deste fenômeno é o aparente sacrifício do interesse material em nome do capital simbólico.
É o trabalhador informal que defende a reforma da Previdência que o prejudicará, pois internalizou a narrativa do “privilégio” do servidor público, um outro que lhe é apresentado como inimigo. É o pequeno agricultor que apoia o relaxamento das leis ambientais que ameaçam seu próprio manancial, em nome da bandeira do “progresso” e da luta contra as “ONGs internacionais”.
Estes não são cálculos irracionais, mas a prova de que o self político não é apenas um balanço de contas, é uma narrativa sobre si mesmo.
O filósofo francês Jacques Rancière define a política não como a gestão do consenso, mas como a disputa pela partilha do sensível – quem tem direito a ser visto e ouvido. A adesão a um projeto que parece economicamente contraproducente é, na verdade, o preço pago por ser reconhecido como um sujeito pleno, e não como um objeto de políticas públicas.
Ser “cidadão de bem” oferece um lugar de honra nessa nova partilha, algo que a identidade de “beneficiário de programa social” – por mais vital que seja materialmente – pode não conferir. A troca é cruel, mas logicíssima: troca-se uma parte da segurança material por uma dose total de dignidade identitária.
O Lulismo como Pano de Fundo e Espelho
Não se pode entender essa nova direita sem vê-la como uma criação espelhada e reativa ao lulismo.
O lulismo promoveu uma inclusão social massiva, mas em parte a fez via consumo e acesso a crédito, fomentando um individualismo aspirativo. Ele criou milhões de novos indivíduos que, uma vez fora da pobreza extrema, não queriam mais ser interpelados como “pobres”, e sim como consumidores e proprietários.
A direita falou diretamente a essa nova subjetividade. Enquanto o lulismo enfatizava o nós coletivo (“nunca antes na história deste país”), a direita falou ao eu vitorioso que “superou a miséria por seu próprio esforço”.
Adendos
Há, aqui, um ponto incômodo que a esquerda muitas vezes evita: não se trata apenas de “manipulação” do povo por símbolos. Em diversos momentos, a esquerda passou a falar a linguagem do Estado e das instituições como se ela fosse automaticamente universal — e isso produziu distâncias. Parte do eleitorado popular não se sentiu apenas “desassistida”, mas desrespeitada: por ironias culturais, por pedagogias morais, por uma estética do esclarecimento que transforma divergência em ignorância. Some-se a isso contradições reais (corrupção, burocratização partidária, promessas frustradas) e forma-se um terreno fértil para que a direita apareça não como engano, mas como restituição simbólica de voz. O voto popular não é ausência de racionalidade: é racionalidade ancorada na experiência, na honra e no reconhecimento.
Ao mesmo tempo, a direita assimilou estrategicamente elementos da gramática petista.
O antielitismo, antes dirigido às oligarquias, foi redirecionado às elites culturais (imprensa, universidades, artistas). O discurso de libertação, antes de classes oprimidas, foi aplicado à “maioria silenciosa” oprimida pelo “politicamente correto”.
Foi uma guerra de posição no campo simbólico, onde a direita aprendeu a disputar a autenticidade e a falar em nome de um “povo” que o PT, em sua visão, havia traído ao se tornar a própria elite do poder.
Conclusão: O Fim do Voto como Aritmética e o Nascimento do Voto como Identidade
A pergunta inicial, “por que o pobre vota na direita?”, parte de um pressuposto que o próprio fenômeno se encarrega de demolir: o de que o voto é uma aritmética de interesses materiais claros e imediatos. O que os dados e a semiótica revelam é a ascensão do voto como ato de identificação total.
A política migrou, para parcelas significativas do eleitorado, do campo da distribuição para o campo da recognição.
Isso não significa que a economia seja irrelevante, mas que ela é reprocessada através de lentes culturais.
A inflação não é apenas um número, é a prova do “desgoverno”. O auxílio emergencial não é apenas uma transferência de renda, é um sinal de “compra de votos” ou de “caridade do líder”, dependendo do lado em que se está. A pós-verdade não é a ausência de fatos, mas a subordinação dos fatos a uma comunidade emocional de sentido.
O desafio que se coloca para a democracia brasileira é monumental. Como debater políticas públicas quando os campos estão separados por identidades políticas tão fechadas e antagonistas?
Como reconstruir um projeto de país comum quando o próprio significado de palavras como “pátria”, “liberdade” e “justiça” foi radicalmente cindido?
A conquista simbólica operada pela direita no seio das classes populares é um fato político indelével. Ela sinaliza que a batalha pelo Brasil do século XXI será travada, antes de mais nada, no campo da imaginação, do afeto e dos símbolos.
Quem não souber falar essa língua, não será ouvido.
Epílogo: O Animal Político
O tapir, o Tapirus terrestris, é um animal de hábitos noturnos e solitários. Sua força está na persistência silenciosa e na pele grossa.
A escolha desse animal como símbolo não precisa ser oficial para ser eficaz: em política, o que importa é a circulação do signo e sua capacidade de gerar pertencimento.
Tornou-se, por acidente ou genialidade de marketing, o ícone perfeito de uma certa brasilidade política contemporânea: a que se sente encurralada, mas resistente; a que prefere agir nas sombras das redes sociais; a que acredita que a sobrevivência é, em si, uma forma de vitória.
O animal político que ele representa não vota em projetos. Ele vota em espelhos. E no reflexo embaçado desse espelho, o que ele quer ver não é um programa de governo, mas a confirmação de sua própria existência, digna, temível e, finalmente, dona de si.
🎬 Apaixonado por narrativas e significados escondidos nas entrelinhas da cultura pop.
Escrevo para transformar filmes, séries e símbolos em reflexão — porque toda imagem carrega uma mensagem.